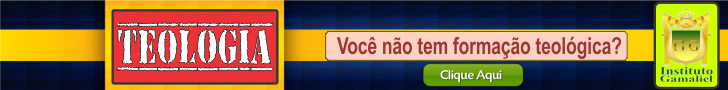Escritora, cantora, artista performática e pintora, quando Patti Smith (Chicago, 73 anos) é indagada sobre quantas Pattis coexistem, responde com palavras de Walt Whitman: “Contemos multidões”. Testemunha de uma Nova York de aluguéis baratos e “drogas que acabaram com muita gente”, entrou no mundo beat e no entorno warholiano quando a fábrica de bicicletas de Nova Jersey em que trabalhava fechou e, aos 19 anos, mudou-se para a baixa Manhattan. Corria o ano de 1971 quando o fotógrafo Robert Mapplethorpe a incentivou a cantar seus poemas. Ele —que acabaria se tornando um ícone gay— foi um de seus grandes amores. O dramaturgo Sam Shepard foi outro. E por seu marido, o guitarrista Fred Sonic Smith, abandonaria esse mundo para se dedicar a criar seus filhos em Detroit. Mas Sonic morreu e, “para alimentá-los”, Smith voltou aos palcos. Tinha 44 anos. Aos 55, começou a publicar suas memórias. Só Garotos (Companhia das Letras) narra com ternura e crueza —conta que Mapplethorpe se prostituía para pagar o aluguel— a história de amor entre os dois, que, em seu leito de morte, o fotógrafo lhe implorou para que escrevesse. Conseguiu fazer isso em 2010, 21 anos depois que ele morreu de AIDS. Vestida com roupas masculinas, ela representa a independência e a sabedoria de saber viver com pouco. A conversa é por telefone. Ela está em seu apartamento de Nova York. Em uma apuração angustiante, Joe Biden é confirmado como presidente eleito de seu país. Pergunto-lhe se tem um café ao lado —seu “único vício” aparece continuamente em seus livros (o mais recente, O Ano do Macaco, foi lançado em 2019) e a marca Lavazza a nomeou “embaixadora cultural”. Responde que sim: “Preto, sem açúcar e com um pouco de canela”.
P. Você saiu às ruas para cantar e incentivar as pessoas a votar. Em 2016, escreveu que aqueles que se calaram tinham vencido as eleições. Quem ganhou estas?
R. As pessoas falaram. Nunca haviam votado tantas. O fato de as pessoas se mobilizarem é uma vitória. Somos uma sociedade que às vezes precisa despertar.
P. O amor —por seus parceiros, por seu cachorro ou pela memória de seus pais— define sua escrita. Precisou subir em um palco e dar chutes para compensar tanto amor?
R. Você dificilmente pode mostrar seu amor se não mostrar sua raiva. A raiva costuma ser fruto da busca pela verdade, por isso as pessoas protestam nas ruas. A música que fazemos comunica essas emoções.

P. Entre seus amores, coloca no mesmo nível seu cachorro Bambi e o dramaturgo Sam Shepard.
R. São dois dos meus favoritos. Bambi se deixou atropelar quando íamos entregá-lo para adoção porque minha irmã mais nova era alérgica. Peguei comida e saí com ele. Durante um dia, percorremos todos os lugares onde tínhamos sido felizes. Aí ele se colocou na frente do caminhão de quem ia adotá-lo. Sam e eu fomos um casal selvagem. Sempre pude contar com ele. No final, quando tinha ELA [esclerose lateral amiotrófica], fui ajudá-lo. Estávamos na cozinha. Tomávamos café. Eu lhe fiz um sanduíche e ele disse: “Patti Lee, nós nos transformamos em uma obra de Beckett”. Sempre me chamava pelo meu segundo nome. Só minha mãe, Johnny Depp e ele faziam isso.
P. Você é inclassificável, mas nunca foi questionada como artista.
R. Como me aconselhou William Burroughs, procurei proteger meu nome e não menti.
P. No entanto, foi questionada pessoalmente quando era namorada de Mapplethorpe —certa imprensa publicou que era lésbica.
R. Também fui criticada por algumas feministas quando me mudei para Detroit com meu marido para cuidar dos meus filhos. É preciso dar muitos passos para conseguir ser livre. Se é [livre] porque alguém se questiona em cada decisão. Existem pessoas que buscam uma identidade no pertencimento a um grupo, mas você tem de buscá-la em si mesmo. Ser mãe não me oprimiu. Mas entendo que isso pode acontecer com outras pessoas. Para mim, o sacrifício é parte de nossa evolução como seres humanos. Quando você se sacrifica, cresce.
P. Sacrificou-se por amor a Mapplethorpe?
R. De forma nenhuma. Nós nos conhecemos quando tínhamos 20 anos. Tivemos uma relação de amantes jovens. Jamais pensei que ele estava questionando sua sexualidade. Eu também não tinha muita experiência. Depois ele se atreveu a considerar algumas coisas. Estávamos lidando com questões fundamentais sabendo muito pouco. Ele me pediu que contasse.
P. É chocante que alguém que representava a ruptura sofresse tanta autorrepressão.
R. É chocante hoje. Em 1968, ocultar a homossexualidade era comum. Os jovens eram internados em hospitais psiquiátricos por isso. Era um estigma. E ele queria se tornar um artista e salvar nossa relação. Não sabíamos mais.

P. Talvez soubessem pouco, mas tinham certeza de que seu amor estava acima de tudo.
R. Acreditamos em nós mesmos através do outro. Quando alguém tem essa confiança em você, isso o mantém por toda a vida. Ainda hoje, quando tenho um momento de desânimo, busco esses instantes na memória e ganho força. Você pode recorrer à memória para se fortalecer.
P. Vive tanto na sua cabeça quanto na realidade?
R. Vivo no passado e no presente. Na minha cabeça e na rua. Às vezes, olhar para trás é doloroso. Perdi tanta gente: meu marido, Robert, Sam, meus pais, meu cachorro, meu irmão… Mas outras vezes uma fotografia ou um livro te permitem trazê-los até o presente e te devolvem essa pessoa por um momento. A imaginação serve para viajar para o desconhecido ou para o conhecido. Tem essa força. Seria um erro não aproveitar esse potencial.
R. Conheceu Mapplethorpe aos 19 anos, quando se mudou para Nova York.
R. Eu trabalhava em uma fábrica de bicicletas que fechou. Procurava trabalho. Cheguei com a roupa do corpo, mas havia restaurantes, sabia que encontraria alguma coisa. Encontrei trabalho em uma livraria, mas tive que dormir uma semana na rua porque não tinha o depósito para alugar um quarto. A escassez não me assusta. Cresci acostumada a ela.
P. Passou fome quando criança?
R. Aprendi o que era a fome e a não afundar com isso porque algum dia a comida voltava para casa. Lidar com as dificuldades não foi tão difícil para mim quanto pode ser para outra pessoa. Eu sabia resistir. Além disso, era romântica. Associava ser artista ao sacrifício. Pense em Van Gogh. Tinha essa ideia: precisava estar disposta a uma vida de sacrifício se queria ser artista.
P. Sentia que passando fome dava o primeiro passo?
R. Era ingênua, mas aceitar o sacrifício te fortalece. Robert vinha de uma família de classe média e, para ele, passar fome era insuportável.
P. Fala de si mesma como “uma garota má que tentava ser boa”. E de Mapplethorpe como “um garoto bom que tratava parecer mau”.
R. Eu era travessa. Tive de me espevitar e aprender a roubar um pouco, nada sério: pegar comida e correr. Para Robert, isso era inconcebível. Ele era inteligente, aplicado, a esperança de sua família. Mas ele queria ser outra coisa. Por isso queria ser mau, para se afastar daquilo que se esperava dele.
P. Por que ser bom tem má reputação na arte?
R. Mitificamos aspectos malditos da criação. Eu tive uma forte educação bíblica. Aprendi que ser boa tinha a ver com sua capacidade de se sacrificar em favor de uma causa maior. Mas também entendi que nunca seria uma santa.
P. Seus pais eram testemunhas de Jeová?
R. Minha mãe. Meu pai não era religioso, mas lia a Bíblia. Acreditava que era grande literatura e me transmitiu isso.
P. Aos 19 anos, teve um filho e o deu para adoção. Voltou a vê-lo?
R. Posso responder em privado?
P. Claro, mas pergunto porque fala desse episódio em suas memórias, assinalando que não passa um dia sem pensar nele.
R. Consegui entrar em contato com ele. Ele disse que queria ser parte de nossa família, mas de maneira privada. Isso responde à sua pergunta?
P. Tenho outra: prefere que não mencionemos esse assunto?
R. Faça com essa informação o que acreditar que possa ser mais útil para todos.
P. Entre seus modelos, sempre cita Jo, a irmã escritora de Mulherzinhas, e Jim Morrison, o cantor do The Doors. Que combinação!
R. Morrison relacionou poesia e rock and roll, mas o que realmente me mostrou um caminho foi Dylan, simplesmente porque experimentou tudo. Para mim, parecia Picasso: nunca parou de mudar. Quando alguém que muda é seu modelo, a mensagem é: você deve buscar seu caminho de diferentes maneiras.
P. Por isso lhe deu um branco ao cantar A Hard Rain’s A-Gonna Fall quando recebeu o Nobel em nome dele?
R. Foi humilhante. A orquestra estava tocando, os reis me olhando, a câmera me enfocando, e senti o horror. Subir em um palco nunca tinha me intimidado. Mas o extraordinário aconteceu depois: recebi uma enxurrada de mensagens. A falha humanizou minha atuação. Os momentos que explicam nossa humanidade são os que nos tocam. Aprendi uma lição: as pessoas perdoam um erro em público se você é honesta e conta o que está lhe acontecendo.
P. Relaciona a arte com o atrevimento.
R. Burroughs dizia: “Um artista vê o que outros não veem”. Robert queria fazer algo que ninguém tivesse feito.
P. E você?
R. Para mim, não se trata de conseguir o que nunca se viu. Acredito que a arte te aproxima do que as pessoas chamam de Deus. Como artista, busco revelações. Para mim, a arte é uma viagem de descobrimento.
P. Prefere os artistas que transformam seu tempo àqueles que o refletem.
R. Quero que a arte me leve além do mundo em que estou. Não leio muita não-ficção, a menos que esteja estudando algo, porque só a ficção tem lugar para a improvisação e o inesperado. O mesmo me ocorre com a música. Prefiro ouvir Coltrane, e que cada vez seja diferente. Gosto mais daquilo que se redefine continuamente do que daquilo que permanece inalterado.
P. O que você transformou como artista?
R. Tenho uma banda e sou mulher. Passei de escrever poesia a cantá-la em um palco, transformando-a em rock. As únicas regras que tenho são as de decoro. Quando escrevi Só Garotos, decidi fazer um livro responsável. Tudo o que aparece nele é verdade. Não só o que Robert [Mapplethorpe] fez ou a natureza da nossa relação. Também qualquer dado sobre as livrarias ou sobre o preço de um cachorro-quente. Não é um trabalho de fantasia: tudo aconteceu. Mas, além desse livro, que Robert me pediu, sou fiel à minha busca, não aos fatos.
P. O Chelsea Hotel foi sua universidade?
R. Não terminei meus estudos, mas ali eu tinha o professor William Burroughs e o professor Allen Ginsberg, as grandes mentes do momento, no quarto ao lado.
P. Quando criança, era uma grande leitora. Por que não estudou na universidade?
R. Comecei em uma, mas tinha de trabalhar na fábrica. Não era suficientemente boa para conseguir uma bolsa de estudos. Não conseguia me esforçar pelo que eu não gostava. Minha mãe trabalhava o dia todo como garçonete e meu pai era operário. Mas não tinham preconceitos. Isso os tornava confiáveis. Cresci em um ambiente de carências materiais, mas não mentais. Discutiam o tempo todo. Muitas vezes por dinheiro. Mas ficaram sempre juntos, não porque tivessem filhos, mas porque riam juntos.
P. Aprende-se algo com a escassez?
R. É um romantismo e uma realidade. Hoje não preciso de muito. Outro dia, estava com minha filha e me pediram que autografasse um livro. Estava com uma camisa listrada, assim como a da foto do livro, que era de 1972. Minha filha disse: “Olha, você é a mesma pessoa”.
P. Você é?
R. Acredito na evolução, mas vejo que minhas excentricidades continuam sendo as mesmas.
P. Ainda se veste em brechós?
R. Compro muito pouco. Camisas que comprei há 30 anos ainda duram, e uma amiga faz minhas jaquetas. Em geral, uso roupa masculina.
P. Quando Mapplethorpe era seu namorado, você usava gravata e ele, calças de lamê.
R. Ele, sim, gostava de se enfeitar. Para mim, a roupa masculina é mais leve. Costuma ser mais confortável e permite que você se mova. O mínimo que peço da roupa é que não me oprima.
P. Mesmo tendo vivido cercada pelas drogas de seus amigos, descreve o café como seu único vício.
R. Nunca tive vícios porque cresci com uma mãe que fumava dois maços por dia e, quando ela não tinha dinheiro para comprar tabaco, eu a via chorar de ansiedade. Decidi que não queria depender de algo que, em sua ausência, me fizesse sentir assim. Além disso, era uma menina doente. Tive tuberculose e minha mãe teve de lutar para me manter com vida. Eu não iria para Nova York para jogar todo aquele esforço no lixo! Depois vi como morriam amigos. Janis Joplin era poucos anos mais velha do que eu e morreu de overdose. Posso ter sido romântica com a questão da fome para me transformar em artista, mas nunca fui com a morte precoce. Sou uma sobrevivente. Tenho 73 anos e espero viver até os 93.
P. Talvez mitifique o café: deu dinheiro a um garçom para que abrisse sua própria cafeteria.
R. E quase abri um. Queria chamá-lo de Café Nerval: um lugar pequeno que só servisse café, pão e azeite de oliva.
P. Um negócio perfeito!
R. Meu amor pelo café vem da infância. Meus pais o tomavam assim que se levantavam, e não nos davam. Isso me fascinava.
P. Nerval escreveu em Aurélia: “Os sonhos são uma segunda vida”. Seus últimos livros são assim?
R. Sou uma sonhadora diurna. Às vezes penso em um estúdio em Nova York que adoro. Não posso pagá-lo, mas imagino que uma idosa o oferece para mim porque já não precisa dele. Eu me entretenho imaginando. Stevenson disse: somos dois —um caminha no mundo, e o outro, em sonhos.
P. Em seus livros, conta todos os tipos de problemas, mas não os de sua família. Não tinham?
R. Claro que sim. Meu marido morreu quando meus filhos tinham 6 e 12 anos. Sabemos muito de perdas, mas nem por um segundo esqueço o que as pessoas estão sofrendo no mundo. Quando eu era jovem, só queria ser artista. Não tinha o desejo de formar uma família e ter filhos. Mas fiz isso e abri um caminho que acabou salvando minha vida. Proteger a infância deles fez com que minha empatia aumentasse.
P. Para falar de racismo, descreveu Billie Holiday com sua gardênia, seu chihuahua e seu vestido enrugado por ter que dormir em um banco quando não foi admitida em um hotel.
R. Não sou uma ativista como Greta Thunberg ou como minha filha, mas procuro utilizar minha voz.
P. Você escreveu que soube quem era Pessoa não pelo que ele escreveu, mas pelo que leu.
R. No final, é o que você guarda. E em sua biblioteca Pessoa tinha Blake, Baudelaire e romances policiais.
P. O que um escritor deve ter para estar em sua biblioteca?
R. Um idioma. Rimbaud está comigo desde que tinha 19 anos. Nerval também. São guias. Não preciso entender tudo que diziam. A chave é que algo toque você. A poesia é escrita em um código secreto que às vezes é difícil de entender.
P. O que pensa da Nobel Louise Glück?
R. Tenho de ser honesta e dizer que não estava em meu radar. Mas vou lê-la.
P. Sempre se sentiu livre?
R. Sim. Na pandemia, pensei: não parei de me sentir livre, apesar de estar encerrada. Acho que é um privilégio, uma conquista mental que alguém alcança quando dedica sua vida a não atrapalhar e a fazer algo que lhe permite crescer como pessoa.
P. Onde deixa sua raiva?
R. No palco, quando dou um chute. Não sou vingativa. Já errei e me perdoaram. Procuro fazer o mesmo. Não peço perdão por ser como sou e quando me irrito com Trump ou com ditadores de outros países, saio às ruas e protesto.