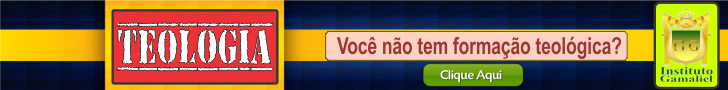A receita parece infalível. Mistura-se num mesmo formato Sex and the City, O Diabo Veste Prada e Betty, a Feia (versão produzida por Salma Hayek). Agita-se e depois se dilui em um caminhão-tanque de água de coco para remover qualquer grãozinho, linha de roteiro com mais de um desdobramento ou trama que não possam ser seguidos de peito aberto. O resultado é Emily in Paris, uma série da Netflix aparentemente sem substância que narra as aventuras de uma jovem executiva norte-americana na capital francesa.
Até aqui, nada de novo. A surpresa vem quando a ficção lançada em outubro se torna um fenômeno viral: memes, artigos sobre as roupas que a protagonista —encarnada por Lily Collins— usa em cada capítulo e postagens no Twitter mais ardentes do que uma moção de censura. A razão —segunda jogada de efeito— não é que milhares de pessoas amem a série, mas que adoram odiá-la. E a intensidade de seus sentimentos é claramente desproporcional ao pecado cometido: Emily in Paris não é nem remotamente a pior série que o consumidor já viu. Nem mesmo a mais frívola. Não encabeça nem está em último em nenhum ranking.
MAIS INFORMAÇÕES
Então, por que curtimos tanto espezinhá-la? Que tipo de glutamato este preparado que leva Chanel, baguetes e cinderelas neocapitalistas esconde para que lambamos o prato sabendo que é fast food?
Irritar-se com esta ficção não é nenhum desafio. É como implicar com o mais fraco da classe: moleza e covardia. Sim, Emily in Paris é um banquete de clichês sobre a cultura francesa. Não falta nenhum. A chefa parisiense que se alimenta de tabaco; a mulher do empresário que é sabedora de que o marido está dormindo com a chefa parisiense, mas que preferiria fazer uma ménage à trois com Emily; e o amigo que tem um château —quem não tem um château na França? Em vez de um roteiro, parece que Darren Star —seu produtor e também da série Melrose Place— se valeu da composição de uma candidata à fraternidade Kappa Kappa Psi intitulada Assim Será Meu Ano Sábatico na Cidade-Luz. Mas não há superioridade moral em apontar isso. Seria o equivalente a se gabar por saber distinguir entre um restaurante de quinta categoria e outro de chef: parabéns por não ter o sentido do gosto atrofiado.
Borja Cobeaga —diretor da série Pagafantas, Negotiator e Fe de Etarras— acredita que com Emily in Paris o gênero de ficção passa a absorver uma forma de ver e explorar a televisão que até agora era típica de reality shows do tipo Quem Quer se Casar com Meu Filho? ou outros programas de namoro na TV. “A graça está mais na conversa que se cria em torno do produto do que no próprio produto. É algo que sempre aconteceu, como quando você se reunia com os amigos para assistir ao Eurovision e dar umas risadas. As redes sociais potencializaram essa fórmula; e o confinamento a acelerou”, analisa. Não comentamos sobre Emily in Paris apenas porque a vemos. Nós a assistimos para poder comentar. Para fazer parte do grupo. Assim como nos esprememos em calças justas no início dos anos 2000 e começamos a beber gim tônica como se vivêssemos na Índia colonial.
Além do mais, em um momento de distanciamento social, nada une tanto como um inimigo comum, mesmo que seja ficcional. Na verdade, melhor ainda se for ficção. Já temos à disposição realidade suficiente. A série da Netflix constitui a fogueira em torno da qual se convoca o novo sabbat digital. Sem arrependimentos, sem medo e sem consequências. Ninguém nos vai apontar o dedo por falarmos de Emily. É para isso que serve. E se não foi criada com esse propósito, está sendo de bom tamanho.
Criticá-la é inofensivo. Seus detratores não são trolls nem haters, eles se reúnem em torno de uma mesa aconchegante abastecida com cervejas artesanais e taças de vinho do tamanho Alicia Florrick (protagonista de The Good Wife e campeã do trago extragrande). “É que os personagens são odiosos”, sentencia Anastasia Bengoechea. A ilustradora, mais conhecida como Monstruo Espagueti, já está na segunda exibição da série. Ou seja, sabe muito bem do que está falando (muito mal). Para qualquer cínico —e quase para qualquer ser humano nestes momentos de incerteza, o otimismo singelo e persistente de Emily é exasperante. Tampouco a glorificação do sonho americano —e sua ética de trabalho— cai bem em várias gerações para as quais —à beira de uma nova crise econômica— esta mensagem soa como um slogan da loja Mr. Wonderful. Emily representa os Estados Unidos. Ela é a primeira a chegar ao escritório, aquela que entende de redes sociais, o futuro. Seus colegas parisienses personificam a velha Europa. Desatualizados, anacrônicos, preguiçosos que aparecem às onze da manhã com ramela nos olhos. Mas não pode ser só o olhar condescendente de uma parte da indústria dos EUA o que provoca reações tão apaixonadas. Seria o mesmo que ficar surpreso ao ver que um jogador de futebol tem tatuagens.
“Ver Emily in Paris é como ler [a revista de celebridades] ¡Hola!: pura evasão, uma fantasia onde ninguém tem problemas como os seus e onde, ao mesmo tempo, tudo é tão irreal e alucinante que você não consegue parar de ver. Você traga até o fim”, resume Bengoechea. Com apenas cinco postagens, Emily tem mais seguidores no Instagram do que Dulceida; Emily usa bolsas Marc Jacobs, casaquinhos Chanel e sobretudos Kenzo (que somente um salário de CEO poderia bancar); Emily come croissants aos montes, mas nada acontece porque tem um metabolismo mais rápido do que Usain Bolt; Emily mora em uma Paris pré-pandêmica onde o sexo casual não é irresponsável. “Você morre de inveja”, reconhece a ilustradora. “Quando começou o primeiro estado de alarme [na Espanha], as TVs e plataformas passaram a produzir conteúdos sobre o confinamento; mas essa moda durou menos do que o próprio confinamento ”, lembra Cobeaga. “Tudo o que não esteja relacionado com o presente e nos lembre de tempos passados terá muito sucesso.” Especialmente se pudermos trazer à tona juntos. Pois para isso não há toque de recolher.